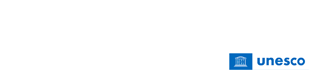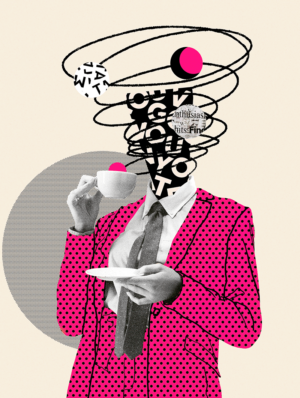Educação para um mundo mais inclusivo, justo, pacífico e sustentável
Trabalhamos para que, através da educação e da cultura, nenhuma menina ou menino fique para trás.
Nosso compromisso é global
Brasil, Chile, Espanha, México, Porto Rico e República Dominicana.
Observatoriode la Escuela en Iberoamérica (OES)
Conheça o programa de pesquisa da Fundação SM que coleta informações rigorosas sobre a situação das instituições educacionais na América Latina, a fim de promover a reflexão, o diálogo e a tomada de decisões consensuais que contribuam para a melhoria da qualidade educacionais.

O que fazemos
A Fundação SM desenvolve a sua atividade assente em quatro pilares ou desafios estratégicos fundamentais:
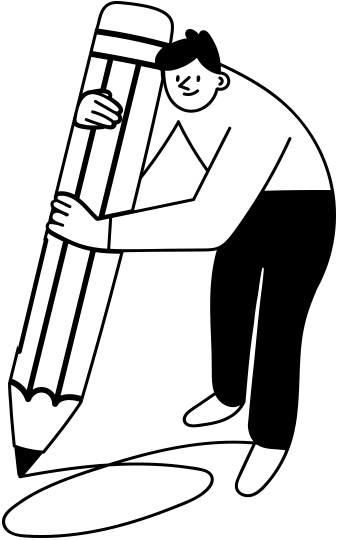
-

Formação contínua de professores
Desenvolvemos programas de formação para professores com o intuito de renovar sua motivação e gerar espaços de reflexão.
Mais sobre isso -

Incentivo à leitura
Promovemos o hábito da leitura e a promoção da produção literária dirigida a crianças e jovens.
Mais sobre isso -

Pesquisa educacional
Promovemos e apoiamos a investigação educacional, a fim de mapear a realidade da educação a nível global.
Mais sobre isso -

Projetos socioeducacionais
Contribuímos para a melhoria da qualidade dos sistemas educativos, apoiando iniciativas de diversas instituições.
Mais sobre isso -

Voluntariado
Promovemos a participação de profissionais de SM em projetos e ações que contribuam para a equidade educativa e o bem-estar emocional de meninas, meninos e jovens.
Mais sobre isso
Destacamos